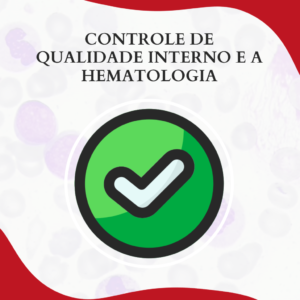Tempo de protrombina: explorando o teste
Leitura: 2 min
Os exames de triagem dependem do Tempo de Atividade da Protrombina (TAP), também conhecido como TP, como uma peça essencial. Eles investigam a ativação da via extrínseca da coagulação. A tromboplastina é introduzida ao plasma […]